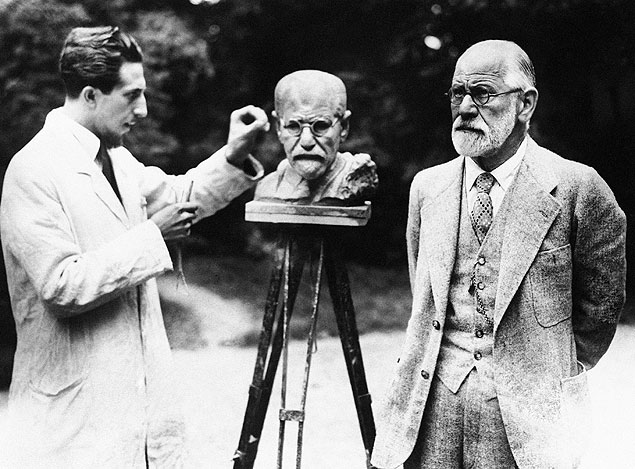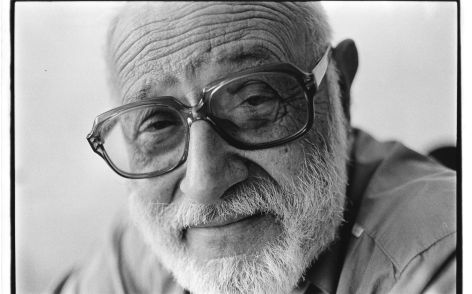Por Carol Castro
Da Super Interessante
Charlie Brown só queria um amor. O amor da menina dos cabelos vermelhos. No dia dos namorados, escreveu um cartão para ela. Ensaiou o momento da entrega, o tom de voz, os gestos. Mas o cartão nunca saiu do seu bolso. Ele nunca teve coragem de se declarar. Na verdade, ele nem sequer perguntou o nome dela. Charlie Brown é o tipo de sujeito que se esconde atrás da timidez. Nossa, ele quase recusou um convite para viajar à França (seria muita novidade por metro quadrado). Como diz aquela canção dos Smiths: "timidez é legal, mas pode te impedir de fazer tudo que você gostaria na vida".
Pode até ser. Mas ela é bem comum - talvez mais popular que o encabulado dono do Snoopy. "Muitas pessoas são tímidas, mas a maioria não sabe. E os mais tímidos pensam que só eles são tímidos, estão sozinhos no mundo", diz o americano Bernardo Carducci, autor de vários livros sobre o assunto. Pasme, na nossa cultura de falastrões, 50% se dizem tímidos. Dentro do seu círculo social, um em cada três amigos é introvertido (tecnicamente, quem possui traquejo social, mas precisa de solidão para recarregar baterias). É muita gente. Só que essa maioria silenciosa ainda veste, conscientemente ou não, máscaras de extroversão. O problema é que, por muito tempo, ser reservado foi um problema. Só os expansivos viravam chefes, ícones, modelos a ser perseguidos. Por sorte, o mundo andou. As qualidades dos quietos (concentração, produtividade e, por que não, bom senso) voltaram a ser valorizadas. E servem de lição até para os populares extrovertidos.
Ainda assim, a minoria silenciosa ainda se vê obrigada a responder se "está tudo bem?" quando resolve passar um tempo na sua. Culpa do século 20.
O IMPÉRIO DOS TAGARELAS
Há cem anos, o mundo tinha vários decibéis a menos. O rádio e a televisão ainda não faziam parte nem do sonho de consumo das famílias. A maioria da população ainda vivia no campo. Numa vizinhança rural de dez famílias, todo mundo era familiar - mesmo os tímidos e introvertidos.
Até que cidades nasceram, incharam e os vizinhos passaram de 30 para 300. O Seu Zé, dono da fazenda de café, amigo da família, que casou com a prima de segundo grau da sua mãe, não era mais o patrão. Os comerciantes também não vendiam apenas para os velhos conhecidos da região, como antes, mas para uma massa desconhecida. "Cidadãos transformaram-se em funcionários, enfrentando a questão de como causar uma boa impressão em pessoas com quem não tinham laços", explica a autora Susan Cain no recente livro O Poder dos Quietos.
E os extrovertidos acabaram se dando bem. Eles tinham o dom da comunicação: falavam mais, com segurança e simpatia. Vendiam-se melhor. Conquistaram corações, mentes, vagas, clientes e transformaram a extroversão num culto: todos precisavam ser tão brilhantes e radiantes quanto eles. Simplesmente porque dava mais certo.
Se antes os manuais de comportamento pregavam como ser mais formal, educado e ético, os livros de autoajuda do século 20 ensinavam como ser mais sociável. O primeiro best-seller dessa nova era veio dos EUA: em 1913, o ex-tímido Dale Carnegie lançou Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios, que ensinava a usar a lábia para fazer sucesso profissional. Mas Carnegie acertou mesmo em 1936, quando estendeu o conceito de simpatia para a vida pessoal. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, um guia prático de extroversão, vendeu e ainda vai vender milhões mundo afora - está na 52ª edição brasileira. É o livro de cabeceira de Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo e notório introvertido.
Carnegie não era o único porta-voz da extroversão. Revistas, jornais e outras dezenas de autores passavam lições sobre como aprender a falar (e sobre quais assuntos). O historiador Warren Susman comparou as qualidades mais destacadas nos manuais dos séculos 19 e 20. "Cidadania", "dever", "boas ações", "bons modos" e "honra", destaques dos anos 1800, praticamente sumiram de 1900 em diante. Deram lugar a adjetivos como "magnético", "fascinante", "atraente", "dominante", "enérgico". A diretriz mudou de "seja uma boa pessoa" para "seja alguém incrivelmente legal".
Na TV, as celebridades endossavam o culto à extroversão. A publicidade vendia os mesmos conceitos. Possuir uma personalidade introspectiva virou um defeito, coisa de gente estranha e fracassada. Mas mudar a chavinha de introversão para extroversão não era fácil. Nem todo mundo conseguia atuar no papel de desinibido, falastrão. Por um fator de peso: a genética.
COMO AS BOCHECHAS CORAM
É o primeiro dia no emprego novo e você encontra sua nova chefa. A amígdala, área do cérebro responsável por respostas automáticas, instintivas, liga o sinal de alerta. Ela libera adrenalina no sangue, acelera os batimentos cardíacos, dilata os vasos sanguíneos (inclusive no rosto, podendo deixar as bochechas vermelhas), deixam a respiração ofegante e transformam o combustível armazenado (açúcar e gorduras) em energia. Isso acontece em poucos segundos, após os quais o assunto chega ao neocórtex, responsável por formar decisões racionais. Ele avalia a situação. Não há perigo: é só sua nova chefa. Você sorri, estende a mão e a cumprimenta. O neocórtex venceu o duelo com a amígdala, dissipou as chances de um súbito ataque de timidez.
Nos introvertidos, as amígdalas parecem mais excitáveis - por isso eles são sensíveis a novidades. E isso, de alguma forma, faz com que sejam mais retraídos. Quem descobriu essa relação foi o psicólogo Jerome Kagan, da Universidade Harvard. Numa longa pesquisa, publicada há mais de 30 anos, ele acompanhou recém-nascidos até a infância. Na primeira etapa, expôs 500 bebês a estímulos desconhecidos, como ouvir vozes diferentes e ver móbiles em movimento. Uns 20% choravam muito forte, outros 40% nem se importavam, e 40% ficavam no meio termo. Aos dois, quatro, sete e 11 anos, as crianças participaram de novos testes para ver, outra vez, como reagiam às novidades. Além de observar os comportamentos, os pesquisadores mediram a taxa cardíaca, pressão e temperatura (todas controladas pela amígdala). Os bebês mais chorões acabaram se transformando nas crianças mais reservadas daquela turma. E também eram os que mostravam mais alterações nas tarefas coordenadas pela amígdala. Seu neocórtex demorava mais para vencer a discussão e acalmar o organismo.
Um estudo mais recente, da Universidade de Iowa, mostrou que os cérebros de introvertidos e extrovertidos relaxam de forma diferente. Nos introvertidos, o processo é comandado pela acetilcolina, neurotransmissor responsável por memórias e e elaboração de planos. Já os extrovertidos precisam de uma alta dose de dopamina, neurotransmissor ligado às sensações de prazer e recompensa.
Essas predisposições biológicas ajudam a compreender as diferenças de comportamento. A amígdala de um introvertido frita em um ambiente cheio de estímulos. Para os quietos, uma festa pode ser extremamente cansativa - o relaxamento deles tem a ver com agitos internos. No caso dos extrovertidos, sentar sozinho para ler um livro é que cansa, não traz relaxamento nenhum. Pouco sensível, sua amígdala precisa de mais coisa para se excitar - só cem tons de cinza para gerar dopamina suficiente.
A genética, claro, não determina os atos de ninguém. É como se ela fosse a estrutura da casa, e o revestimento, colocado por você, fosse a personalidade. Nem todos os bebês escandalosos do experimento de Kagan continuaram reservados na vida adulta. Carl Schwartz, outro psicólogo de Harvard, convocou alguns desses jovens adultos para novos testes. As amígdalas dos ex-chorões continuavam mais sensíveis, mesmo entre os que se tornaram mais gregários. Ou seja, sua genética não mudou, mas eles aprenderam a controlar suas reações. É como se, ao ouvir as queixas da amígdala frente a um desconhecido, a pessoa dissesse: "Calma, já passamos por isso antes. Estique o braço, cumprimente esse cara e tudo vai ficar bem". É possível, mas cansa.
ENFIM, AS VANTAGENS
As descobertas sobre a influência da genética no comportamento não são mera curiosidade. É a ciência afirmando que timidez não é doença, só um jeito diferente de funcionar. A internet também deu uma forcinha: falar com os dedos, num mundo virtual, sem a obrigação de resposta imediata, deixou os reservados mais confortáveis. E as pessoas se deram conta de uma coisa: ser introvertido tem suas vantagens.
"As pessoas estão mais abertas à ideia de que há uma força nas pessoas mais reflexivas", conta Beth Buelow, autora do blog The Introverted Entrepreneur (em português, O Empreendedor Introvertido). Força justificada pelas tais diferenças bioquímicas. Como sentem menos necessidade de se expor a estímulos novos, os introvertidos podem se concentrar melhor, dedicar mais foco à resolução de um problema.
Num experimento em que o psicólogo Richard Howard distribuiu labirintos impressos para um grupo de 50 pessoas, os introvertidos se saíam melhor. Não por inteligência, mas paciência: eles insistem mais nos desafios. Eles demoram mais para responder, mas, como seu cérebro trabalha mais com associações e memórias, tendem a encontrar respostas que não passariam pela cabeça de um desatento extrovertido. Essa extrema concentração, inclusive, faz com que introvertidos detestem ser interrompidos. E, por mais que se esforcem para trabalhar em grupo, se saem melhor em tarefas individuais.
Os tímidos, diferentemente dos "destemidos", não costumam trocar razão por emoção. "Sensibilidade à recompensa não é apenas uma característica interessante da extroversão; ela é o que faz um extrovertido ser extrovertido", escreve Cain.
Essa ousadia pode render bons frutos, como transformar a mercearia do bairro em uma rede de supermercados. Mas essa atração por riscos pode desligar a chave da sensatez. "Já vi negociações em que os líderes fecham acordos ou compram empresas por preços absurdos, só para sentir o prazer da vitória. Depois se perguntam por que fizeram aquilo", escreve o autor Bernardo Carducci. Isso acontece quando a amígdala vence o duelo com o neocórtex. Além de dar voz ao medo, ela pode insistir para que você dê vazão a outros instintos, como desejo e prazer. É por isso também que extrovertidos batem mais o carro e pulam mais a cerca. Desses males, pelo menos, os introvertidos sofrem menos.
Por outro lado, um perfil pouco ousado e mais calado não se enquadra naquele estereótipo típico de chefe - o cara que é "magnético", "dominante", "enérgico"... Mas tudo bem. Colocar introvertidos no comando tem outras vantagens. Um estudo de pesquisadores de Harvard descobriu que funcionários proativos liderados por extrovertidos se abstêm de dar opiniões. Com introvertidos, acontece o oposto: eles não temem conflitos com a chefia e se sentem livres para palpitar. E, quando fazem, os lucros aumentam.
Os introvertidos têm ainda mais um trunfo nas relações pessoais. Com essa mania de passar mais tempo calados, observar mais do que agir, eles viram bons ouvintes. (Um extrovertido tem sua atenção desviada com mais facilidade, se perde na conversa e nem sempre compreende de verdade qual é o problema.) Além disso, a sensibilidade aguçada faz deles observadores perspicazes, do tipo que estuda sua expressão facial, repara no tom da sua voz e percebe antes de um falastrão quando algo não vai bem.
BANG-BANG A YIN-YANG
Mas devagar com a amígdala. Assim como foi errada a supremacia da extroversão no passado, não cabe declarar esta a Era dos Introvertidos. São perfis opostos que não se anulam, se complementam. E mais: um tem muito a aprender com o outro. "Não adianta um introvertido criativo e focado se esconder na concha e não conversar com ninguém sobre seu trabalho. Precisa se esforçar minimamente para interagir um pouco", explica Eliete Bernal Arellano, professora de psicologia organizacional da Universidade Mackenzie. É o que fazem, sem nenhum esforço, os extrovertidos. Em troca, eles podem adotar alguns bons comportamentos dos introvertidos: como manter o foco sem ter de sair, angustiado, para um café a cada 20 minutos. Juntos, os dois podem evitar o excesso de comodismo dos quietos e o risco exagerado dos ousados.
Nos relacionamentos, é preciso entender que introvertidos não ficam quietos porque se chatearam ou enfrentam algum problema. Às vezes, só estão cansados. Mas que aprendam com os extrovertidos: é preciso se esforçar para cultivar relações, seja para conversar com a família do namorado ou apresentar um projeto no trabalho. Mesmo que isso obrigue você a passar o fim de semana em casa reabastecendo energias.
O mundo não seria muito agradável se todos vivessem em busca de prazer a todo custo, se todos falassem sem parar e mal tivessem tempo para ouvir um ao outro. Ainda que o exemplo seja perigosamente real, seu oposto também seria um saco: um marasmo insuportável se todos se enclausurassem e ninguém fosse à esquina jogar conversa fora. Por sorte, temos todas as variações. Juntos é que introvertidos e extrovertidos são mais divertidos.